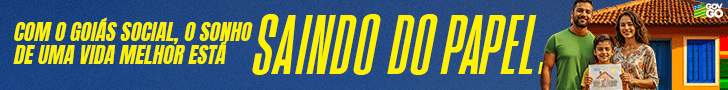Para o ex-presidente do Banco do Brics, o empresário – homem de confiança do presidente eleito dos EUA – tem bom trânsito junto aos líderes chineses, que o veem em condições de representar, em alguma medida, o papel de Henry Kissinger, ex-secretário de Estado americano
O economista, sociólogo e diplomata Marcos Troyjo, de 58 anos, está numa posição privilegiada para analisar os efeitos do possível acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, caso as medidas protecionistas contra os chineses, prometidas pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira, 20, se confirmem.
Como ex-presidente do Banco do Brics, cuja sede é em Xangai, de 2020 a 2023, Troyjo manteve relações com altas autoridades chinesas e conheceu de perto muito da visão que elas têm sobre as relações da China com os Estados Unidos, com o mundo e com o Brasil, em particular. Antes, como professor ajunto da Universidade Columbia, em Nova York, como diretor e um dos criadores do chamado BricLab, vinculado à instituição, dedicado à realização de estudos sobre o Brics, e como Secretário de Imprensa da Missão do Brasil junto às Nações Unidas, teve também oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre as ideias de líderes americanos a respeito do cenário econômico internacional.
Nesta entrevista ao Estadão, ele comenta em detalhes as relações comerciais entre os Estados Unidos e a China e o impacto que a volta de Trump à presidência deverá ter nos negócios entre os dois países e na economia global. Segundo Troyjo, o empresário Elon Musk (controlador da Tesla, da SpaceX, da Starlink e dono do X), homem de confiança de Trump, poderá exercer, em boa medida, o papel de interlocutor entre os Estados Unidos e a China que foi representado no passado por Henry Kissinger, ex-conselheiro de Segurança Nacional e ex-secretário de Estado americano.
“Com o falecimento recente do Kissinger, os chineses passaram a ver o Elon Musk (que tem uma grande fábrica da Tesla na China) como capaz de desempenhar, em alguma medida, essa função, mesmo porque os chineses o conhecem bem e ele conhece bem os chineses. Acho que há uma admiração mútua aí”, afirma.
Troyjo fala também sobre as consequências da chamada desglobalização na economia mundial, sobre as oportunidades que se abrem para o Brasil no atual cenário internacional, de proliferação de medidas de restrição ao livre comércio, e sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, assinado recentemente, para o qual ele deu uma contribuição significativa como negociador do País durante o governo Bolsonaro, no qual atuou como secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Confira a seguir os principais trechos da entrevista.
Com a pandemia e a guerra na Ucrânia, houve uma proliferação de medidas protecionistas no mundo e a desglobalização, que foi muito discutida após a crise global de 2008, voltou ao centro do debate sobre as relações econômicas internacionais. Como o sr. analisa esta questão?
Você sabe que, em 2025, a publicação daquele livro O mundo é plano, do (jornalista) Thomas Friedman, está fazendo 20 anos. E uma das coisas interessantes daquele livro, que virou uma referência de um período de globalização profunda ocorrida entre o fim do século 20 e o início do século 21, é que você intuía, ao atravessar todas aquelas páginas, que nós caminhávamos para um mundo com menos barreiras comerciais, menos obstáculos a investimentos e menos restrições à livre movimentação de ideias e de pessoas. A percepção era de que havia um renovado fôlego para instituições multilaterais, como a ONU, e muito otimismo em relação à Organização Mundial do Comércio (OMC) e ao aprofundamento das chamadas cadeias globais de valor.
O doutor Ozires Silva (cofundador e ex-presidente da Embraer, da Petrobras e da Varig) dizia que, quando você olhava para a asa de um de um jato da Embraer, via ali componentes de 18, 19 países diferentes, porque o sistema hidráulico era feito num país, o rebite em outro e a camada de isolamento térmico num terceiro. No limite, se você estivesse nesse avião e olhasse para o lado de fora da janela, veria um horizonte de globalização profunda, de hiperglobalização, e quem estava pilotando o avião, quem estava no comando, era a ideia de eficiência.
O horizonte é de grande competição entre as superpotências econômicas, que alguns chamam de Guerra Fria 2.0
O que que mudou nos últimos anos em relação a essa hiperglobalização a que o sr. se refere? A eficiência não está mais no “comando do avião”, como o sr. diz?
Hoje, além da eficiência, você tem um outro piloto muito presente no cockpit do avião, que é a geopolítica. A eficiência não abandonou o comando, mas já não determina isoladamente as decisões de investimento e de produção no mundo. Se você olhar pela janela do avião, o horizonte lá fora é de grande competição entre as superpotências econômicas, mais especificamente entre os Estados Unidos e a China, que alguns chamam de Guerra Fria 2.0. Isso está levando a uma desaceleração da globalização tal como nós a conhecemos. Não é uma desglobalização que vai no sentido contrário da globalização, mas uma globalização mais lenta. É como um veículo que tem de reduzir a sua velocidade, porque o caminho é sinuoso ou porque há muita neblina. Isso não quer dizer que ele parou. Muito menos que ele deu marcha-à-ré.

Levando isso em conta, faz sentido falar em “desglobalização”, se o que está ocorrendo é uma desaceleração da globalização?
Quando a gente fala em desglobalização não significa que, de repente, você vai apertar um botão e todo o comércio internacional e todo o fluxo global de investimento estrangeiro direto vão estancar. Não é isso. A desglobalização não pode ser entendida como se fosse uma volta a um mundo que funcionava como um conjunto de ilhas totalmente isoladas umas das outras. O mundo continua a ser um arquipélago, em que não existe transporte terrestre entre uma ilha e outra, mas você tem pontes, veículos anfíbios, ferry boat, que fazem a ligação entre elas. Às vezes, restrições que um ator A impõe sobre um ator B geram oportunidades para outros atores que não estavam colocadas antes.
Na sua visão, o que levou a essa mudança nas relações comerciais nos últimos anos?
Quem mudou muito essa conversa no mundo, mais especificamente nos Estados Unidos, foi o presidente Donaldo Trump, em seu primeiro mandato (2017-2021), por entender que a ascensão da China não é necessariamente do interesse americano e do resto do mundo e para proteger os Estados Unidos do que é visto como práticas comerciais ilegais ou injustas por parte da China. Eu acredito que ganhou muita força uma abordagem em que a China por vezes é vista quase como uma ameaça existencial à preponderância americana no mundo, em vez da visão que predominava antes, de que, se a China crescesse, se ela fosse próspera, seria bom para todos e particularmente para os Estados Unidos.
Muito desse discurso, dessa visão de mundo, foi absorvido também pelos europeus. Só que isso acabou criando também uma espécie de tensão entre cooperação e conflito. Houve o fortalecimento da ideia de um comércio “livre e justo”, ou seja, de um “comércio limpo” (fair, em inglês), em vez de simplesmente livre comércio, que era o paradigma do Consenso de Washington e de muitos dos textos que acompanharam as administrações exitosas do ex-presidente Ronald Reagan (1911-2004) nos Estados Unidos ou da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher (1925-2013) no Reino Unido. Tudo isso está projetando uma globalização muito menos aberta, muito menos ambiciosa do que aquela que a gente viu publicada nas páginas do livro do Thomas Friedman 20 anos atrás.
Se o Trump realmente aumentar as tarifas sobre as exportações chinesas, a China vai ter de retaliar
Agora, como a volta do Trump à presidência pode agravar este cenário, caso se confirme a adoção das medidas protecionistas que ele prometeu na campanha eleitoral, principalmente contra a China?
Eu estive recentemente em Pequim e sinto que os chineses estão se preparando para contenciosos comerciais e no nível governamental de mais longo prazo. Estão apostando muito também em novas geografias, no aumento das relações com o Oriente Médio, com a América Latina e com países do Sudeste Asiático, para compensar eventuais medidas restritivas americanas. Se a partir do dia 20 de janeiro, com a posse do Trump, você tiver realmente um recrudescimento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a e a China, com a adoção de novas camadas tarifárias sobre as exportações chinesas, eles serão colocados na posição de revidar. A China vai ter de retaliar.
Que tipo de medidas o sr. acredita que a China deve adotar?
Conhecendo um pouco a maneira pela qual os chineses atuam, eu entendo que eles veem essa relação entre Estados Unidos e China como uma relação entre um ator mais forte e um ator menos forte. O ator mais forte são os Estados Unidos. O menos forte é a China. Isso significa que aquilo que os Estados Unidos fizerem do ponto de vista tarifário, de cotas e restrições, não deverá ser revidado na mesma moeda pelos chineses. Eles terão de identificar – e provavelmente já estão identificando – os setores em que uma ação muito pontual gere um efeito muito grande na formação de opinião e também nas posições de poder em Washington. E eu acredito que um desses setores, talvez um dos mais relevantes, seja o agronegócio.
Por que, na sua opinião, o agronegócio é tão importante nessa equação?
O percentual do agro como fatia do PIB (Produto Interno Bruto) americano é razoavelmente desproporcional em relação à influência política que o setor tem em Washington. Todos os Estados americanos têm interesse no agro. O Wyoming, por exemplo, é o Estado do queijo. Nova York é o Estado das frutas. A Flórida também tem as suas peculiaridades. Ou seja, todo mundo ali tem um alimento em jogo. Os Estados Unidos são deficitários no seu comércio com a China no setor de manufaturados, mas são superavitários tanto nos setores de serviços e de tecnologia quanto no agronegócio. Hoje, os Estados Unidos são o segundo maior exportador de alimentos para a China. Já foram o primeiro, mas perderam a posição para o Brasil. Então, se a China retaliar os americanos no setor do agro, isso deve ter uma repercussão grande em Washington.
No limite, o interesse das empresas também vai falar forte. Você tem de levar em conta que há laços profundos unindo os dois países na área econômica. Se você levar em consideração o período 2000 a 2017, que é o ano em que o presidente Trump assumiu a presidência, o principal destino do investimento estrangeiro direto americano no mundo foi a China. O principal destino do investimento estrangeiro direto da China no mundo não foi o Brasil ou a Austrália ou a África. Foram os Estados Unidos. Então, você tem um estoque de capital imobilizado considerável de parte a parte e isso deverá ter o seu peso também no encaminhamento desta questão. Agora, em determinados setores, como os de robótica, automação, computação em nuvem, data center e inteligência artificial, realmente haverá uma bifurcação muito grande. Nos automóveis elétricos, eu acho que tudo pode acontecer. No entanto, talvez esse seja um setor um pouco diferente dos outros, porque há um volume maciço de investimentos da Tesla na China.
Pelo que o sr. está falando, então, o Trump é o grande vilão da guerra comercial dos Estados Unidos com a China?
Na verdade, não é bem assim. Às vezes acentuam muito as diferenças entre o Trump e o (Joe) Biden (atual presidente dos Estados Unidos), não apenas no estilo, mas também na visão de mundo. Mas algumas ações iniciadas na presidência Trump tiveram continuidade ou foram até expandidas no governo Biden. Ainda que, na campanha de 2020, a candidatura Biden fosse muito crítica em relação às tarifas que o Trump havia imposto à China, dizendo que elas não funcionavam e geraram efeitos adversos. O Biden fazia muito essa crítica, mas na realidade ele continuou e até ampliou as medidas adotadas pelo Trump contra a China.
O sr. poderia dar um exemplo concreto de uma medida adotada pelo governo Biden que foi na mesma linha das medidas protecionistas implementadas pelo Trump em seu primeiro mandato?
Uma coisa que começou na presidência Biden, por exemplo, foi o IRA, o Inflation Reduction Act. Apesar desse nome, o IRA foi um gigantesco programa de política industrial, que tem muitos elementos do Buy American e de escusas fiscais e subsídios diretos, que foi adotado com o objetivo não apenas de reindustrializar os Estados Unidos, mas de neoindustrializar uma série de áreas, como as de semicondutores, robótica e transição energética. Eu acredito que, assim como o Biden não revogou as medidas impostas à China pelo seu antecessor, muito do que ele fez nessa área não vai ser desfeito pela presidência Trump. Ao contrário. Acho até que pode haver uma expansão.
O que talvez seja muito distinto entre os governos Biden e Trump, com enormes impactos para o resto da economia mundial, é essa busca de eficiência governamental, desburocratização e desregulamentação e a tentativa de corte de impostos que ele deverá implementar. Ao fazer isso, o Trump vai aproximar os Estados Unidos, do ponto de vista da carga tributária como porcentual do PIB, não da média dos países da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mas da média da carga tributária dos países emergentes, que é bem mais baixa. Isso vai gerar consequências bem grandes na economia. E a tal da agenda ESG (governança ambiental, social e corporativa), que foi promovida pelo Biden, também vai ficar mais distante durante uma presidência Trump.
O mundo está muito perigoso, mas não está necessariamente ruim para o Brasil
Qual a chance de isso se resolver pela via diplomática, para evitar que haja um acirramento da guerra comercial entre os dois países?
Nos últimos 50 anos, um pouco mais, a China teve no Henry Kissinger seu principal interlocutor, quando eles queriam transmitir alguma mensagem para Washington. E, muitas vezes, o Kissinger foi utilizado também no outro sentido, de fazer a mensagem dos Estados Unidos chegar aos chineses. Com o falecimento recente do Kissinger, os chineses passaram a ver o Elon Musk como capaz de desempenhar, em alguma medida, essa função, mesmo porque os chineses o conhecem bem e ele conhece bem os chineses. Acho que há uma admiração mútua aí.
Veja o protagonismo adquirido pelo Elon Musk: ele não apenas é o indivíduo mais rico da história da humanidade, como assumirá agora, com a posse de Trump, a responsabilidade de melhorar a eficiência desse gigantesco animal que é o governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, ele está hoje numa posição, talvez mais do que ninguém, de ser o grande interlocutor entre os Estados Unidos e a China.
Saindo um pouco do caso americano, como tudo isso deve afetar o resto do mundo? Até que ponto o acirramento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode provocar um estrago generalizado pelo mundo?
Se a partir do dia 20 de janeiro, com a posse do Trump, você realmente tiver um recrudescimento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a e a China, cada país, do seu lugar relativo na economia mundial, não vai assistir a isso tudo de maneira passiva. Haverá reposicionamentos, ajustes, retaliações. Aquilo que a Europa fizer me parece que será muito importante, porque, com uma economia europeia de performance muito inferior à americana, você pode ter dois tipos de reação: ou um fechamento ainda maior em relação à China, por pressão de grupos protecionistas, ou uma reaproximação. Hoje, os europeus veem que a administração Trump será muito transacional, sem uma dimensão de um quadro maior de aliança do Ocidente. Neste universo transacional, a Europa será tratada numa dimensão semelhante à que os Estados Unidos deverão a tratar o Japão, a China e outros atores.
E o Brasil, como deve ficar neste cenário de maior restrição no comércio mundial e de desaceleração da globalização?
Se a China retaliar os americanos no setor do agro, isso vai criar oportunidades específicas para o Brasil. Porque o Brasil talvez seja o país, junto com a Argentina, em menor escala, que, em termos de volume e prontidão, consegue responder quase automaticamente a um efeito substituição gerado a partir de restrições às exportações americanas do agro. É algo curioso, porque o mundo está muito perigoso, mas ele não está necessariamente ruim para o Brasil, porque haverá mais insegurança alimentar e energética no mundo, em meio à transição para a chamada “economia verde” – campos nos quais o País tem vantagens competitivas relevantes. Tirando a espuma de marqueteiro, digamos assim, o Brasil tem uma economia verde que é pujante.
Há 20 anos, qualquer gestor de portfólio tinha de considerar a alocação de investimentos para países da ex-União Soviética ou aumentar sua exposição na China. Hoje, não haverá mais grandes alocações de portfólio para aumentar o que já é uma presença bastante grande de empresas e fundos de investimento ocidentais na China. O mesmo vale para os países que uma vez conformaram a chamada “Cortina de Ferro”. Então, a posição relativa do Brasil se tornou mais visível e potencialmente mais atraente.
O problema é que hoje, quando muitos países estão tentando organizar os orçamentos públicos, o Brasil está fazendo exatamente o contrário
Agora, em que medida o Brasil pode, de fato, se beneficiar desse quadro?
Eu assisti uma vez um documentário sobre o general (Charles) de Gaulle (1890-1970), ex-presidente da França, em que a principal fonte era seu próprio filho, que, aliás, é muito parecido com ele fisicamente. No documentário, ao responder uma pergunta sobre qual era a frase favorita do De Gaulle, seu filho disse que era uma frase do (Charles-Maurice) Talleyrand (1754-1838), que foi um político e diplomata francês. A frase era mais ou menos assim: “Quando eu me olho no espelho, eu me preocupo. Mas, quando eu me comparo com os outros, eu me tranquilizo”. Então, o Brasil tem um monte de dificuldades, mas os outros países também têm.
O problema é que hoje, quando muitos países estão tentando organizar os orçamentos públicos, aumentando a participação do setor privado nos investimentos, melhorando a governança de empresas estatais e de economia mista e procurando atrair recursos externos, para não ter qualquer tipo de derrapagem monetária ou fiscal, o Brasil está fazendo exatamente o contrário. É como diz a famosa frase do (filósofo espanhol) José Ortega y Gasset (1883-1955): “Yo soy yo y mis circunstancias”. Se você faz tudo que tem de fazer e as circunstâncias não são favoráveis, o efeito positivo é limitado. E, se as circunstâncias são muito favoráveis, mas você não faz o que se espera, os efeitos positivos também são limitados.
Como esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que foi anunciado recentemente, pode contribuir para reforçar a posição do Brasil neste contexto?
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia envolve 700 milhões de pessoas. Então, do ponto de vista da escala, é um acordo importante. Nós concluímos esse acordo cinco anos atrás, em junho de 2019. Na época, esse acordo deveria seguir para assinatura e aprovação do Parlamento Europeu e isso só não aconteceu porque houve uma crítica exacerbada àqueles focos de incêndios florestais no País, na segunda metade de 2019. Os comissários europeus, os negociadores europeus, quiseram esperar baixar um pouco o nível de ruído para encaminhar o acordo. Só que aí você teve não apenas o impacto da covid, mas também um efeito muito negativo com a chegada do Alberto Fernández à presidência da Argentina. Ele tinha interesse em reabrir o acordo, porque achava que iria criar dificuldades para indústria argentina, que sempre foi uma das mais protegidas e subsidiadas do mundo. Aí, nesse momento, aqueles países europeus que também queriam uma reabertura as negociações, como a França e a Polônia, procuraram se esconder atrás da Argentina.
Depois, em 2022, quando houve as eleições presidenciais no Brasil, emissários do PT, ao visitar as contrapartes na Europa, ouviam que o acordo deveria ser reaberto nos seus capítulos ambientais. Aparentemente, eles concordaram com isso, ou seja, acabaram dando montaria para os interesses protecionistas europeus disfarçados de ambientalistas. E a maneira que o Brasil encontrou para salvar a face foi tentar retirar do acordo o tema das compras governamentais. Ao fazer isso, o governo não apenas afastou o país do acordo de compras governamentais da OMC, como acabou criando, indiretamente, mais obstáculos ao processo de entrada do Brasil na OCDE, que não é uma prioridade dessa gestão, mas que esperamos que volte ao palco num futuro próximo.
Ironicamente, o acordo com a União Europeia acabou saindo quando havia um recorde de incêndios na Amazônia, no governo Lula, que supostamente iria contê-los.
Sim, e é um acordo menos abrangente do que aquele que a gente tinha concluído 5 anos atrás.
Para a gente finalizar, gostaria de falar um pouco sobre o crescimento da oposição à globalização. Ao longo de décadas, a principal resistência vinha da esquerda, que atribuía à globalização o aumento da desigualdade e outras mazelas. Mas, nos últimos anos, a gente tem visto que a globalização está sofrendo restrições também de grupos de direita, principalmente da direita nacional-populista, que vem conquistando trincheiras importantes no mundo, como no caso dos Estados Unidos, com o Trump. Na sua visão, o que explica essa resistência crescente da direita à globalização?
É verdade que, para a esquerda, durante muito tempo, a globalização seria o resultado dos interesses de empresas transnacionais malvadas e orientada para diminuir a faixa salarial como percentual do PIB e engordar lucros corporativos. Nas cúpulas da OMC, houve muitas manifestações contra a globalização ao longo dos anos. Houve uma muito famosa em Seattle (EUA), que praticamente paralisou a cidade toda.
Agora, é curioso que a China – que nominalmente é comunista e que, portanto, deveria ter a maior resistência a esses projetos – foi o país que de maneira mais apaixonada, talvez, abraçou a globalização econômica desde o fim da década de 1970 e prosperou muito com isso. Graças à globalização, a China eliminou a pobreza extrema há cerca de 4 anos. Hoje, tem uma renda per capita sobre o PIB nominal maior do que a da Argentina e é o país que tem mais bilionários no mundo, depois dos Estados Unidos. É também um destino essencial para as marcas de luxo francesas, suíças, alemãs e britânicas. Isso mostra que nós temos muitas contradições no discurso e na atuação política da chamada esquerda. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma alta autoridade chinesa no próprio Saguão do Povo (Hall of the People) e um dos presentes perguntou a ela se achava que a China era socialista ou capitalista. E essa autoridade chinesa respondeu: “Nós somos socialistas e capitalistas, somos as duas coisas”.
Muito desse mal estar em relação à globalização se deve ao fato de que a China, durante muito tempo, ofereceu um estoque abundante de mão de obra barata
No caso da direita, o que explicaria, na sua percepção, a oposição à globalização?
Na realidade, há uma direita que foi muito definida, em termos econômicos, pelas diretrizes e depois pelo legado de líderes como Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Foi um período em que houve uma grande desregulamentação dos mercados financeiros, a partir do epicentro de Wall Street, e em que grandes empresas transnacionais ganharam o mundo. Então, me parece que havia uma certa coincidência entre globalização, liberalismo econômico e a agenda da direita. Hoje, isso é mais confuso, não é necessariamente o caso.
Estes dias eu estava relendo a biografia do (Winston) Churchill (1874-1965), escrita pelo Andrew Roberts, e tem uma parte do livro em que ele fala sobre o início de sua carreira política, na virada do século 19 para o século 20. o Churchill era um político pró-comércio internacional, que defendia uma maior participação da economia britânica em outros mercados por meio das exportações, mas também era favorável à liberalização do mercado doméstico para importações, porque considerava que essa era uma agenda social. Sua visão era de que, se você aumenta as importações de alimentos, o preço médio do que se poderia chamar de cesta básica cai e isso funciona como uma agenda de inclusão social. Agora, parece que isso está perdendo espaço no mundo.
O sr. fala nos benefícios da globalização, mas, nos Estados Unidos o Trump conseguiu se eleger tanto em 2016 quanto no ano passado graças ao apoio que conquistou com seu discurso protecionista junto aos trabalhadores da indústria americana que ficaram sem emprego com a ascensão da China e a transferência de fábricas para outros países. Como o sr. analisa isso?
Vamos supor que você conseguisse fazer uma métrica baseada nos países que são mais globalizados do mundo. Há várias maneiras de fazer isso. Por exemplo: quantas empresas transnacionais esse país tem? Qual é o percentual da sua economia resultante de exportações e importações? Que posição esse país ocupa como destino de investimentos estrangeiros diretos? Que posição ele ocupa como gerador de investimentos estrangeiros diretos? Você poderia juntar também outra métrica, com base nos países tecnologicamente mais avançados do mundo. Por exemplo: quais são os países que mais depositam patentes na Organização Mundial de Propriedade Intelectual? Quais são os países que têm mais empresas intensivas em tecnologia, como porcentual do seu universo corporativo? Se você cruzar esses dados, provavelmente chegar à conclusão de que os Estados Unidos, a China, a Alemanha e o Japão é que estão na frente. Todos eles são países de alta renda. Todos eles são países eficientes comparados com os seus pares. Todos esses países têm taxa de desemprego nesse momento inferior a 5%. Todos.
Se, por vezes, você tem uma faixa expressiva do que a gente poderia chamar de excluídos, então é necessário entender o que está por trás da exclusão. Será que isso está acontecendo porque o país simplesmente abriu a sua economia, porque permitiu mais competição no seu mercado interno e porque está conseguindo competir em outros mercados? Ou está ocorrendo porque há uma falta de treinamento da sua própria força de trabalho, porque o governo ofereceu benefícios demais numa economia que talvez exigisse mais sacrifícios e porque a burocracia que estrangula a inovação cresceu muito, restringindo o dinamismo do mercado de trabalho? Esta é a questão.
É verdade. Muitas vezes, a mão de obra que era treinada para trabalhar numa determinada indústria não está preparada para atuar em outra área que está em desenvolvimento, quando há uma mudança significativa na economia daquele país.
Muito da explicação desse mal estar existente no Ocidente em relação à globalização se deve ao fato de que a China, durante muito tempo, ofereceu ao mundo um estoque abundante de mão de obra barata. Num esforço para ganhar ainda mais competitividade internacional, o governo chinês controlou para baixo a remuneração relativa da força de trabalho, os salários. Se você pegar todo esse processo de arrancada chinesa de 1978 até 2012, que é quando o Xi Jinping chega ao topo do poder na China, a economia chinesa como proporção do PIB cresceu mais do que os salários Agora, de 2013 para cá, está ocorrendo o contrário. Os salários na China como fatia do PIB estão crescendo mais do que o PIB chinês, o que é um elemento que explica também a mudança do modelo econômico exportador para um modelo menos baseado em exportações. Embora a China continue sendo a principal nação comerciante do planeta, do ponto de vista nominal, eles estão calibrando o consumo mais para o mercado interno. E o que aconteceu com o diferencial competitivo chinês? Eles perderam espaço no mercado global.
Existem trabalhos interessantíssimos hoje a respeito disso. No setor de brinquedos e outros, a diferença do ponto de vista da remuneração da força de trabalho para você fazer um produto nos Estados Unidos ou na China deixou de existir. Este é um problema que a própria incorporação de renda, de certa forma, gerou. Só que você tem a emergência de outros centros de mão de obra barata no mundo, na Índia, no Paquistão, em Bangladesh, no continente africano, que estão ocupando o lugar da China em muitas áreas.
Resumindo, o mundo hoje não é mais plano?
Eu acho que hoje o mundo é mais complexo do que ele era há 20 anos. Mas, curiosamente, como eu falei há pouco, traz mais oportunidades para o Brasil.
Por Estadão