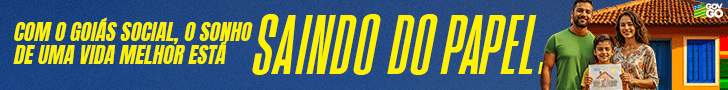A queda do governo de Berlim é consequência da economia instável da Alemanha; mas o mundo inteiro está instável
Guerras, distúrbios e uma mudança de regime sacodem o Oriente Médio. Rússia e Irã, dois dos maiores desordeiros do mundo, sofrem reveses humilhantes. A China, apesar de sua economia problemática, pressiona com suas ambições de expansão em grande parte do mundo em desenvolvimento. E agora o governo alemão caiu.
Trata-se do tipo de confluência de eventos mundiais que os historiadores analisarão no futuro perguntando-se por que as pessoas daquela época não conseguiam reconhecer um ponto de inflexão elementar.
Tudo isso ocorre ao mesmo tempo que a âncora ocidental dos Estados Unidos parece incapaz — ou sem interesse — de manter o navio estável.
A queda da coalizão de governo liderada pelo social-democrata Olaf Scholz em Berlim, na segunda-feira, diz respeito, de certa forma, estritamente à Alemanha. Assistindo à cobertura da TV alemã sobre a importante votação no Bundestag para derrubar esse governo e convocar novas eleições fiquei impressionado com a maneira com que a notícia era percebida pelos alemães, como uma confirmação de dois ditados políticos americanos: “Toda política é local” e “É a economia, estúpido”. Se você usou a cobertura alemã como guia, esse colapso diz respeito principalmente a ameaças de cortar benefícios de pensão e bem-estar social.

Mas por trás da ameaça existe uma ansiedade clássica e permanente dos alemães: um medo de que a invejável estabilidade do país não seja mais confiável. O que nos leva diretamente ao quadro maior, que não é de nenhum modo paroquial.
Desde a 2.ª Guerra, o papel dos EUA na Europa tem sido fornecer segurança — contra a Rússia, mas também dentro da Europa. Afora o episódio da Ucrânia, este é o período de paz mais longo entre as nações europeias em séculos, e embora não haja dúvida de que a União Europeia é uma razão fundamental para isso, a base dessa situação é a garantia do apoio em defesa dos EUA por meio da aliança atlântica.
Agora essa base parece bem instável. Apesar de o Partido Republicano parecer irremediavelmente enrolado entre seu internacionalismo de longa data e seu ascendente trumpismo EUA-em-primeiro-lugar, o presidente eleito ameaça agir em função de seu descontentamento de décadas com a Otan e os europeus, que ele considera sanguessugas e indolentes. Não é uma receita para uma liderança eficaz dos EUA.
Nenhum país acreditou mais no experimento europeu e no valor e na bondade da liderança dos EUA do que a Alemanha. É quase um milagre da história que a duradoura democracia do pós-guerra na Alemanha Ocidental tenha sido em parte inspirada, imposta e sustentada exatamente pelo país que reduziu grande parte da Alemanha a escombros.
A cada década desde a 2.ª Guerra, rumores de extremismo de direita acenaram toda vez que as fortunas econômicas ou políticas do país titubearam. Os alemães, contudo, tanto antes quanto após a reunificação Leste-Oeste que se seguiu à queda do Muro de Berlim, em 1989, depositaram sua confiança e esforço consistentemente numa filosofia de Estabilidade Über Alles.
Agora a extrema direita está surgindo mais uma vez, na forma de um partido político anti-imigração, o Alternativa para a Alemanha, que ganha votos mesmo enquanto a agência de segurança interna do governo mantém o controle sobre a ameaça que o grupo representa para a Constituição e a democracia do país.
Esse incremento ocorre ao mesmo tempo que os dois principais partidos, os conservadores democrata-cristãos e os esquerdistas social-democratas, perderam — da mesma forma que os nossos republicanos e democratas — claridade sobre suas visões para o futuro e, como resultado, produziram confusão entre seus apoiadores tradicionais.

Num sistema parlamentar europeu, quando tal consenso deixa de existir, a desordem pode surgir rapidamente em comparação com o sistema federal dos EUA. Nossos votos de desconfiança chegam ao longo de anos, não meramente em semanas ou meses. Outros sistemas parlamentares, na França e no Reino Unido, estão enfrentando dificuldades juntamente com a Alemanha para garantir uma confiança estável no governo.
Mas a eleição americana foi um claro sinal negativo para o status quo e contribui para a inquietação do Ocidente. Sem uma Europa razoavelmente unida, a capacidade dos EUA de resistir às concentrações de poder da China ou conter as fantasias de Vladimir Putin de restaurar o Império Russo ficará severamente limitada.
Com sorte, os alemães se depararão com uma nova coalizão de governo após uma campanha eleitoral nos próximos dois meses, mas há pouco motivo para acreditar que a eleição produzirá uma noção clara sobre o rumo do país. Para os alemães, assim como para os americanos, as questões que dividem e assustam as pessoas são enormes, os riscos, muito assustadores, e as forças da mudança, aparentemente impossíveis de regular de forma eficaz.
Os alemães, como a ex-chanceler Angela Merkel descobriu em seus últimos anos no cargo, estão realmente ansiosos para se apresentar ao mundo como uma força em defesa da paz e da igualdade, mas não estão dispostos a arriscar segurança econômica para acolher os refugiados do mundo num grau que mudaria o caráter básico de seu país. E embora estejam comprometidos com a soberania ucraniana — os alemães investiram dinheiro e equipamentos militares para prová-lo — eles não estão dispostos a cutucar o urso russo a ponto de arriscar sua própria segurança. Sua confiança instável é abalada ainda mais pela possibilidade de guerras tarifárias globais que ameaçam atingir mais duramente sua economia dependente de exportações.
A queda do governo alemão ocorre em um momento estranho e frágil para o mundo. É especialmente inquietante porque, gostem eles ou não, os alemães viraram um símbolo vital de estabilidade para o Ocidente — um modelo do que a comunidade de nações liderada pelos EUA pode alcançar. Os alemães tendem a pensar que dependem muito da força dos EUA. Nós — e os alemães — devemos perceber que também precisamos da força deles. / TRADUÇÃO DE GUILHERME RUSSO
Opinião por Marc Fisher
É editor-associado do The Washington Post, escreve uma coluna sobre Washington. Fisher começou a escrever na seção Opinions em 2024, após 37 anos como repórter e editor de várias editorias do Post
Por Estadão